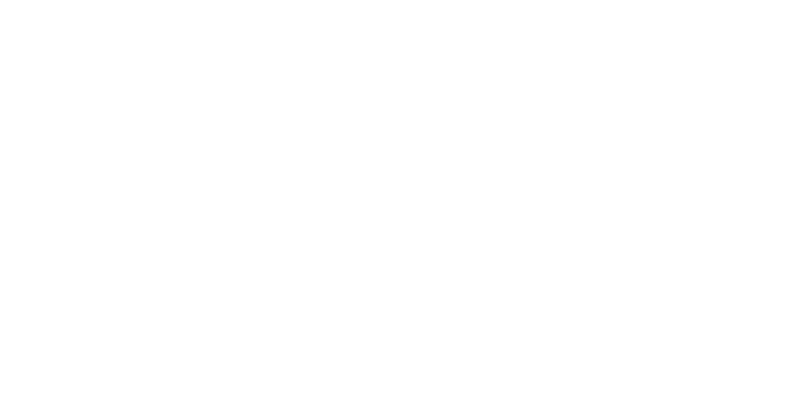Mindhunter supera maldição e se confirma grande série policial
Assim como a técnica do FBI abordada na trama, série original da Netflix é posta a prova na segunda temporada, recheada de tensão racial
Após elogiada estreia, Mindhunter voltou disposta a superar a conhecida maldição da primeira temporada, quando muitas produções não sobrevivem para uma continuidade. Seria uma grande injustiça com a cinematográfica direção de David Fincher e sua estética fria, independente de números de audiência.
O vasto universo de séries policiais é um desafio ainda maior, mas os agentes especiais Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany), pelo visto, não são quaisquer policiais. Como a primeira temporada se debruçou sobre o desenvolvimento da nova técnica, que estuda perfis de serial killers, esta se ocupa em aplicá-la, por meio da recém-criada Unidade de Ciência Comportamental. Desprovida, praticamente, de cenas de ação, o jogo psicológico segue como tônica, e a nova divisão do FBI é colocada sob um teste intensamente desgastante, ao ser convocada para investigar uma série de homicídios de crianças negras em Atlanta.

Foto: Reprodução/Netflix
Com isso, as entrevistas com assassinos reais da história norte-americana, que marcaram a estreia, ficam em segundo plano, assumidas em maior parte pela Dra. Wendy Carr (Anna Torv), que perde o protagonismo, e passa a conduzir os encontros com os criminosos estudados. Apesar disso, temos a oportunidade de ver sua vida pessoal e sexualidade aprofundadas, além de reportar o machismo praticado pelo novo diretor do FBI Ted Gunn (Michael Cerveris) e o desafio de uma mulher lésbica em um ambiente profissional como o da época. No entanto, Gunn é retratado como visionário, que mantém distância segura da UCC, mas apoia o desenvolvimento do trabalho, sabendo que poderia capitalizar com isso.

Foto: Reprodução/Netflix
Tenso, porém esperto, o roteiro é recheado de ironias, como o drama por que passa o veterano Bill, que enquanto investiga perfis de assassinos, seu filho adotivo é envolvido em um crime bárbaro. McCallany, nesses momentos, brilha ao se vestir de paradigmas e imprimir no rosto o esforço hercúleo para conciliar as tarefas de pai e policial. Como é o mais experiente da UCC, se vê obrigado também a entreter políticos com os causos, incluindo a fatídica entrevista com Charles Manson (Damon Herriman). Vale destacar que Herriman entregou um Manson fabuloso, perdendo apenas para o Ed Kemper de Cameron Britton – outro assassino real -, ambas absolutamente fieis.

Foto: Reprodução/Netflix
Além disso, Tench é incumbido por Gunn de tutelar a conduta do impetuoso Ford, cujo desequilíbrio marcou a estreia. Nesta, o jovem é quase um coadjuvante. Mais determinado a solucionar os crimes, Holden, apesar de bem intencionado, é retratado com seu despreparo e falta de sensibilidade para lidar com as particularidades raciais e culturais do estado da Virginia, nos anos 70, quando a KKK ainda ameaçava a vida dos cidadãos negros. Mas ainda é um policial brilhante.
Todo esse caos político e social, em uma cidade revoltada e de luto, joga luz, inclusive, sobre a importância da ciência e seu empirismo. Sem tempo também para aprofundar a nova técnica, a falta de solidez faz com que o FBI cometa diversos erros e vire alvo do questionamento de sua aplicabilidade, já que o principal suspeito seguia justamente o perfil de culpabilidade padrão.

Foto: Reprodução/Netflix
Os diálogos, que são muitos, felizmente não cometem o pecado do enfastiadiço didatismo. Pelo contrário, servem à história para explorar profundamente o sofrimento humano, causado pelo racismo, jogo político, controle social, entre outros, e, principalmente, pelas personalidades diversas – todos são atormentados, exceto alguns dos criminosos e o diretor Gunn, que apenas surfa na onda do sucesso.
A terceira temporada ainda não foi confirmada pela Netflix. Entretanto, Holt McCallany já disse, em entrevista, que a série foi pensada para viver, pelo menos, mais três anos. Devidamente credenciada, isso está.
Avaliação: Ótimo