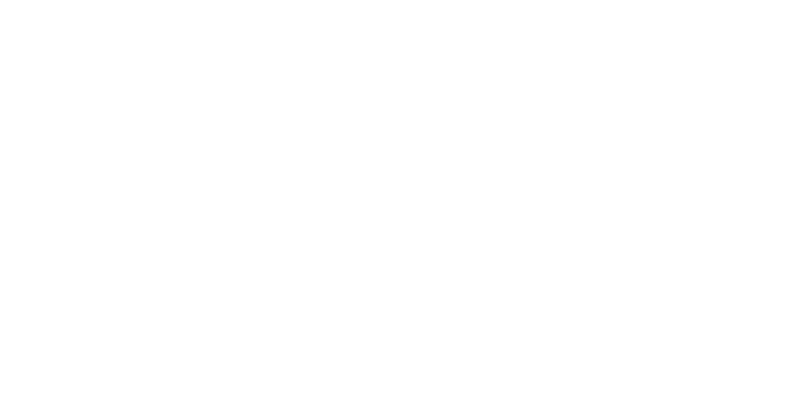Tarantino encara o tempo e a carreira com melancolia em ‘Era uma vez em…Hollywood’
Diretor entrega meta-filme sobre rumos da indústria do cinema em sua produção mais “relaxada”, onde atores sustentam a trama
Quentin Tarantino construiu, em 27 anos de atividade, uma filmografia diversificada que une o cinema de autor com homenagens/desconstruções a gêneros e subgêneros de obras que marcaram sua infância e adolescência. Entre releituras que passam pela Segunda Guerra Mundial e spaghetti westerns, o cineasta finalmente entregou um filme sobre…fazer filmes. Era uma vez em…Hollywood reflete sobre os rumos da indústria, declara seu amor à meca do cinema e expõe a crise de meia-idade de Tarantino nas telonas com honestidade.
Em 1969, o astro de TV Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) não conseguiu se firmar no meio. Lembrado por ser o mocinho em uma série de faroeste, ele agora vive vilões e participa esporadicamente de filmes menores para acabar alavancando a carreira de outros atores. Rick é acompanhado pelo seu fiel escudeiro, o dublê Cliff Booth (Brad Pitt), que é “mais que um amigo e um pouco menos que uma esposa” para o decadente ator, vizinho de porta do diretor Roman Polanski (Rafał Zawierucha) e da atriz Sharon Tate (Margot Robbie). Naquele ano, Sharon fora brutalmente assassinada pelo bando do serial killer Charles Manson (Damon Herriman), cujos crimes são usualmente considerados o ponto final do ‘Verão do Amor’, findando uma era, portanto.
Era uma vez em.. Hollywood é diferente dos outros filmes de Tarantino por praticamente não estabelecer bases da trama, que corre de forma “relaxada”: acompanhamos os dias de Rick e Cliff, entre o trabalho no set e a luta interna e externa para tentar manter-se e avançar entre as estrelas no caso do primeiro e a rotina de “faz tudo” para o amigo no caso do segundo. Essa rotina muda quando o dublê acaba cruzando o caminho da hippie Pussycat (Margaret Quattley), integrante da seita de Manson. A condução da produção, sustentada com maestria pela dupla de atores principais, é justamente sua maior qualidade e não deixa tudo cair na obviedade e na autorreferência gratuita.
As performances de DiCaprio, mantendo a excelente forma e rivalizando com sua entrega em O Lobo de Wall Street, e Pitt (facilmente em sua melhor atuação) são memoráveis. A relação de amizade entre os dois, em química bastante natural e fluida, é pura, sem cobranças ou desentendimentos – são apenas pessoas que gostam da companhia um do outro, ainda que Booth aja como “boia de segurança” para o parceiro, extremamente inseguro e dado a rompantes de histeria. A profundidade desse relacionamento, muito maior do que as pouco mais de 2h40 de exibição, é extremamente bem construída. Algumas das melhores passagens são aquelas carregadas de carinho e cumplicidade entre Dalton e seu dublê. Há ainda participações especialíssimas de Al Pacino como um produtor interessado em salvar a carreira de Rick Dalton e do veterano Bruce Dern como o dono de um racho que serve como base para a seita de Charles Manson.
Do outro lado, Tarantino retrata uma Sharon Tate quase angelical, uma figura digna de grande admiração e louvação, ainda que demonstrando características muito humanas (o ronco, o pé sujo). Nos poucos momentos em que aparece, Margot Robbie chama atenção com mais expressões e gestos que palavras e consegue imprimir na tela o carisma da atriz, também elevando as intenções do diretor, que por pouco não derrapa na objetificação: se aquele objeto carrega ares de religiosidade, não deve, portanto, ser profanado. Neste aspecto, a atriz australiana rouba as cenas em que aparece e convence com muito pouco, como na cena em que vai assistir a um filme estrelado por si própria, sobra doçura e carisma.

Nessa toada parte descompromissada, há alguns erros. Falta profundidade para a personagem de Margot, ainda que a intenção seja retratá-la pairando sobre os acontecimentos. Além da amarra frouxa em relação aos assassinatos cometidos pela ‘Família Manson’, falta um pouco de contexto para a audiência geral que, se não souber quem foi Sharon Tate ou o criminoso, perde em fruição e andamento. Politicamente, a visão do diretor não reacionária como a de um Cristopher Nolan em seu Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, mas pode confundir os desavisados. A dita “carta de amor à Hollywood” exala esse sentimento pelo cinema em cada frame, especialmente nas tomadas que mostram a Los Angeles daquele tempo no estupendo trabalho de direção de arte e a fantasia fica expressa ao fim com dois conservadores salvando o dia e Dalton ascendendo ao paraíso. O subtexto de Tarantino é bem mais complexo dos que os olhos podem ver, mas abre margem para o ataque e, mais importante, o debate.
Há ainda a passagem com Bruce Lee (Mike Moh), retratado de forma ambígua pelo cineasta, primeiro como arrogante e caricato depois como profissional – a filha de Lee reclamou e teve réplica e tréplica. Dito isto, Tarantino é suficientemente esperto para esconder alguns conceitos dos espectadores.
Enquanto o diretor expõe sua crise de meia-idade perguntando-se sobre sua relevância nos seus principais personagens, há muito espaço para a diversão genuína. Era uma vez em..Hollywood é, possivelmente, o filme mais cômico de sua filmografia. O destaque fica para a participação da atriz mirim Trudi (Julia Butters, excelente), praticante do Método em seu ofício, responsável por “virar a chave” do personagem de DiCaprio em uma passagem tão engraçada quanto tocante. A nostalgia aparece além dos cenários e dos temas e TODO o catálogo tarantinesco é lembrado, seja com a inserção de frames quase iguais aos papeis semelhantes para os habituais colaboradores. Kurt Russel faz um coordenador de dublês e já foi o Duble Mike em À Prova de Morte, os faroestes são relembrados por outros e mostrados na rotina de Dalton e assim vai (sim, easter eggs para fãs). A violência característica do cineasta também está presente, desta vez aliando catarse e comicidade em igual medida e, quando ela acontece, choca por terminar de forma imprevisível – uma mistura de desenho animado com Monty Python.
Como fábula entre a convivência de dois amigos que lutam para não cair na obscuridade artística e pessoal, o filme funciona pela maneira honesta de retratar a relação com o tempo em suas variadas nuances. Aquele celebrado período histórico-cultural não existe mais e não é possível trazê-lo de volta e não é isso que o cineasta deseja. É difícil e também corajoso optar pela fantasia em um mundo virado de cabeça pra baixo em 2019. Enquanto seus personagens conseguirem repassar alguma honestidade, mesmo que com alguns tropeços, Tarantino segue sendo um exímio fazedor de contos de fadas.
Avaliação: Ótimo