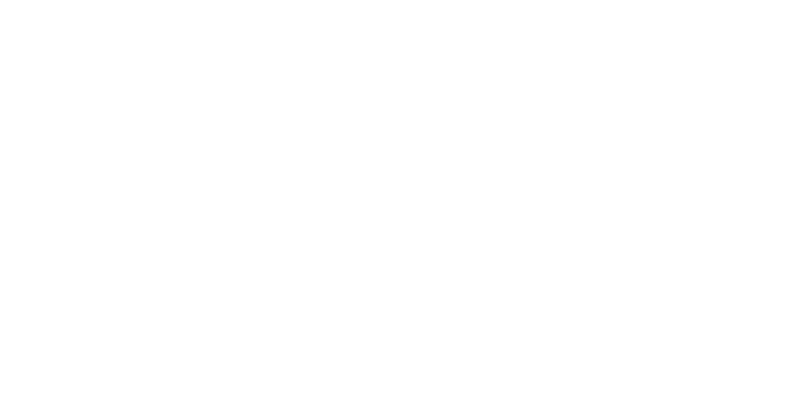‘Gosto da autonomia de fazer show sozinho’, diz Alexandre Kumpinski
Vocalista e guitarrista do Apanhador Só conversa sobre processo criativo, influências e possíveis novos caminhos na estrada
Alexandre Kumpinski, líder de uma das bandas brasileiras mais interessantes surgidas na última década, fez um bom show na Etnohaus, casa alternativa em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no domingo (25). Munido de dois violões, cantou músicas dos três discos do Apanhador Só, que não raro figuraram nas listas de melhores do ano na imprensa e sites independentes quando foram lançados, e três canções novas. Comunicativo, brincou com a plateia sobre frequências, equipamentos e a situação política atual.
Após a apresentação, Pitaya Cultural conversou com o compositor gaúcho sobre o início do Apanhador, denúncias de agressão que quase deram fim à banda, influências e a nova fase musical. Kumpinski não sabe muito bem o que os shows vão virar, mas diz se sentir mais livre, como ‘uma partícula solta’. Confira a entrevista:
Como você começou na música e como foi a formação do Apanhador Só?
Eu comecei tocando com 11 anos, fazendo aula de violão. Fiz seis meses, aprendi o básico e ouvi do meu professor que eu estava pronto para tocar sozinho. Pensei: “Como assim? Não to nada pronto”. Achei que ele tivesse enchido o saco (risos). Voltei a tocar aos 13 e começou aquela coisa de montar bandinha na escola. Formamos o Apanhador Só no segundo ano do Ensino Médio. Inventamos o nome meio às pressas para tocar num festival e foi. Participamos de um intercolegial de banda e ganhamos, já com música própria. Aí conseguimos ir tocando em barzinhos. Na época, Porto Alegre tinha uma cena com lugares de pequeno porte para as bandas independentes. Tinha muita banda, circulação de gente nesses lugares. Fomos indo bem aos pouquinhos, crescendo, fazendo shows em lugares um pouco maiores. Em 2006 gravamos o primeiro EP e em 2010 conseguimos lançar o primeiro disco por financiamento municipal. Aí que começamos a nos profissionalizar, botamos o disco pra download e deu uma viralizada. Porto Alegre e São Paulo foram as cidades mais fortes e o som foi se espalhando pelas capitais aos poucos. No interior, nem tanto. Temos mais público no Rio, por exemplo, do que em cidades do interior no Sul.
Em que momento você teve o clique de querer viver de música?
Foi um processo que foi acontecendo aos poucos. Na época do colégio eu escrevia redações e textos que as pessoas gostavam muito e eu tinha primeiro uma vontade de ser escritor, parecia que esse seria o caminho natural. Aí quando eu comecei a compor, algo me bateu. Acho que tem algo da música para além do texto, que é da melodia, musicalidade, do emocionar. Isso me encantou. Saí do colégio, entrei na (faculdade de) Letras lá no Rio Grande do Sul, mas já tocando, já me colocando e sendo reconhecido como compositor. Num primeiro momento eu nem cantava. Só (cantava) para amigos ou sozinho. O Fernão, baixista da banda, é que cantava nos shows. Eu não sabia cantar em microfone, não sabia colocar a voz. Mas eu tinha essa pilha de compositor e foi acontecendo. A banda também foi começando a dar certo, mesmo que a passos curtos.
Você foi reconhecido como compositor e regravado por nomes como Felippe Catto, por exemplo.
Isso. Ganhei o prêmio Açorianos, lá de Porto Alegre e achei muito estranho me colocarem como intérprete (ri). Fui indicado como compositor e intérprete, mas botava fé no lance de compositor. E acabei ganhando os dois (risos). Mas hoje em dia, eu já pilho mais nessa coisa do cantar, estou cantando melhor e acho que tenho uma potência no cantar para além das ideias. Toca as outras partes que não a razão. É uma coisa meio anatômica, já que tenho uma extensão grande. E esses shows solo são uma coisa boa por permitirem mais.
Quais as suas principais influências?
Estou ouvindo muita coisa, não tenho muita preferência de gênero. Não sei te dizer muito bem quais, porque vou mudando as preferências. Mas o (Gilberto) Gil é muito importante pra mim, mesmo que não apareça tanto na minha música. Ele flui muito, é muito musical, é música. Ainda tenho que me esforçar bastante pra chegar nesse ponto (ri). Gosto muito do Caetano e quando era mais novo toquei muito Chico Buarque, meio que destrinchando as músicas no violão, por songbooks. Isso abriu muito a percepção para as dissonâncias. Gosto muito de João Gilberto também, porque me faz bem ouví-lo. Ouvi muito Los Hermanos na adolescência, foi algo que me tocou muito, acho que toda nossa geração. Mas tem sons da Rihanna que me tocam muito, acho foda.
Você ouve e procura por coisas novas?
Ouço, agora mais ainda por causa do Spotify. Antes eu era meio resistente e não gostava muito disso politicamente. Uns tempos atrás uma amiga minha veio e falou: ‘fecharam um pacote família lá, bem baratinho’ (risos). Comecei a ouvir muitas coisas novas a partir daí e é até bom pra você ver coisa de timbre, de som. Você vai entendendo essas coisas.
Usa como pesquisa?
Na real, eu ouço mais pra me divertir. Se a música não é legal, eu passo. Mesmo que eu saiba que a música pode ser aquela que a galera esteja ouvindo agora, curtindo, que é importante ou influente. Se eu não tô gostando, eu tiro. Precisa ser prazeroso, se não não rola. Vou ouvindo o que me toca, acho que a música precisa ser prazerosa em primeiro lugar.
Como surgiu a ideia do trabalho solo após os últimos shows do Apanhador? É o caminho agora?
Em 2018 a gente entrou num aspecto de recesso, que foi meio natural. Já era uma coisa que vínhamos fazendo há anos e surgiu uma vontade minha de desbravar as coisas de modo diferente durante a turnê ‘na sala de estar’. Toda a turnê foi uma experiência muito intensa, tivemos que conjugar ainda mais nossas diferenças. E começou a nascer essa vontade de explorar caminhos diferentes. Temos 15 anos de banda. Eu não sei dizer se é o caminho agora, estou mais nesse momento de descoberta, de me abrir pro que vier e ver o que vem, de prospectar algo. Ainda não tenho essa resposta. Tenho gostado da autonomia de viajar sozinho, fazer show sozinho, dessa leveza. Depois de muito tempo carregando bastante equipamento, com muita equipe, muito custo, burocracia…o que é perrengue pra um não é pra outro, entram também as necessidades individuais…muita coisa. E muito bom fazer isso de ficar na casa de amigos. Não precisam ser shows grandes, mas shows que se pagam e se viabilizam e era muito isso que eu vinha buscando e querendo. A ideia de poder estar mais como uma partícula solta no mundo para os caminhos acontecerem naturalmente. Já tinha feito alguns shows sozinhos em 2016, 2017 e foi acontecendo. Mas é a primeira vez que estou considerando isso como uma experiência.
Como você encarou o episódio sobre as denúncias contra o Felipe (em 2017, o guitarrista da banda foi acusado de agressão por uma ex-companheira em um post no Facebook, o que fez a banda interromper parte do processo de lançamento do novo disco) e como repercutiu na banda? Lembro que no show do Rio (na Casa de Cultura Laura Alvim) vocês fizeram um dia com banda para lançar o disco e no outro já tinha ocorrido a viralização do post e você fez o show sozinho.
Aquele show precisava acontecer, por muitas questões. Foi extremamente difícil, um dos momentos mais difíceis da vida, mesmo. Foi uma pancada forte para mim, especialmente, e tirei forças do âmago para atravessar esse processo, sem muita destruição em muitos sentidos. O grupo também precisou se unir mesmo para atravessar isso tudo. Parecia que todo o processo do disco (‘Meio que tudo é um’) estava amaldiçoado, por assim dizer.
O que você está buscando de sonoridade agora?
Pela primeira vez na vida eu preciso decidir o que quero nesse sentido. O show de voz e violão tem sido muito prazeroso, mas não é necessariamente isso que quero apresentar como uma estética nova de trabalho. Talvez seja algo que eu vá manter, mas não exclusivamente. Estou compondo bastante em casa e gravando algumas coisas. Às vezes estou até invertendo os processos, criando arranjos primeiro e compondo por cima de pedaços de músicas. Eu acho que esse material de gravação vai acabar dando o tom do que vai ser depois ao vivo, talvez. Não tanto de palco. É mais baseado no violão, tem algumas coisas de guitarra e percussão e agora aprendi a gravar no celular com uma qualidade interessante de compressão. Estou esperando nesse sentido, coisas eletrônicas também que fiquei pirando por alguns meses. Gosto muito do funk carioca, acho muito bem produzido, muito sábio, com timbres maravilhosos. Criei melodias minimalistas baseados num livro de um poeta de Porto Alegre e talvez surja até um projeto nesse sentido, com menos canção e mais arranjo.
Você tem experimentado novas parcerias?
Sim, muito. Para mim é bem natural quando estou compondo rolarem parcerias com quem está por perto em uma determinada época da vida. Tenho composto bastante com a Lúcia, que é minha companheira, e descobri que ela é uma grande compositora. No ‘Meio que tudo é um’ tenho músicas com ela. Gosto muito de trabalhar com quem não é músico, porque as pessoas vem com outras ideias, uma coisa refrescante mesmo. Normalmente eu começo com uma ideia musical, proponho algo com um cara e a gente desenvolve. Compor é algo meio misterioso, até alquímico, mas acho que todo mundo sabe fazer isso de alguma forma. (As pessoas) Acham que não dá, por parecer muito difícil: ‘ah, eu não toco, não sei fazer isso’…mas é só dar uma embalada que acontece, vai na intuição. Às vezes você está tocando por horas preso em alguma palavra e alguém vem como uma solução simples melhor que a sua.
*Com Marco Sá.