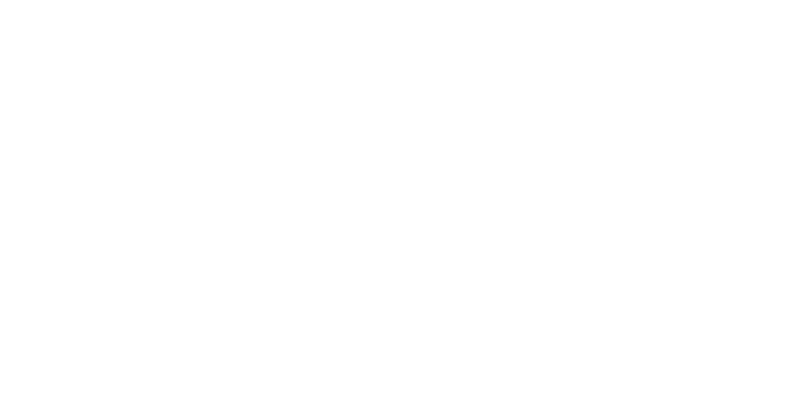No Centro com Ana Frango Elétrico
Em entrevista, artista conta sobre processo de criação, reação do público e sucesso do segundo disco
*com Marco Sá
Em uma noite chuvosa de quinta-feira, 5 de dezembro, no Centro do Rio de Janeiro, o Espaço Cultural BNDES recebera Ana Frango Elétrico, nome de destaque na cena alternativa carioca. Os quase 350 lugares da casa foram ocupados para o show de seu elogiado segundo disco, Little Electric Chicken Heart, um dos grandes álbuns do ano. Nem a condição climática desfavorável, uma barreira séria para o sucesso de um evento no Rio, afastou o público. A apresentação, com recepção pra lá de calorosa de fãs ardorosos e novos interessados — uma senhora na minha frente dançou o tempo inteiro — também contou com todas as músicas de seu trabalho de estreia, Mormaço queima (2018).
A banda de Ana, composta por Guilherme Lírio na guitarra, Vovô Bebê no baixo, Marcelo Callado na bateria e Antonio Neves nos sopros (regendo mais dois instrumentistas) é afiada e mostra coesão em arranjos levemente diferentes dos discos, que geralmente estendem canções, e algumas jams que levam o show para outra direção, confirmando a força da artista.Pitaya Cultural bateu um papo com a cantora e compositora sobre carreira, processo de composição, público e cena. Com vocês, Ana Frango Elétrico.
Pitaya Cultural – Como começou a carreira musical?
Ana Frango Elétrico – Eu comecei no Ensino Médio, com uma banda que tocava músicas que não eram nossas, em saraus em colégios. Depois, fui compondo com eles e para essa banda, sozinha. Aos poucos eu fui fazendo outras canções, que comecei a sacar que eram um pouco mais de grunge na pecada, que não tinham muito a ver com a banda. Foi surgindo a Ana Frango Elétrico, primeiro com Picles e canções do Mormaço queima. Comecei a tocar em tudo que era lugar, quando me chamavam. Eu tocava sozinha e o Guilherme (Lírio) entrou na bateria e fizemos alguns shows de bateria e guitarra, eram umas músicas tipo Picles,Cascas e feridas, Loteria…que eram um pouco mais grunge. Eu não tocava guitarra, eu tinha um violão em casa e fui descobrindo o que era tocar guitarra. A banda foi aumentando, fui vivendo experiências e rascunhos…comecei a gostar mais de jazz, de uma maneira que fosse me levando para outras paradas de harmonia.
Gravamos o Mormaço, que foi feito com músicas que fiz dos 16 aos 18 anos. Comecei a gravar com 18 anos e não era uma banda ao vivo, era tudo atrás de mim e tocavam de um jeito meio louco. Eu não toco nem um pouco mais desse jeito, foi realmente um momento. O Mormaço tem essa proposta mais plástica, pictórica, de coisas indo se colorir. Aos poucos, comecei a me interessar por produção musical e acho que hoje a minha pilha maior é pensar a produção do disco mesmo. O que a gente quer de som? Quais as referências, quais não são as referências? Estou nesse processo e o Little Electric Chicken Heart acho que vem de uma coisa que sou eu como produtora. Produzi o disco ao lado do Martin Scian, mas ele vem muito do eu querendo produzir, mais do que ficar cantando ou tocando. Era eu querendo produzir um disco e sabendo onde queria chegar. Algumas coisas eu sabia e óbvio que no processo outras coisas surgem, mas foi isso.
Estou com 21 anos, gravei ele com essa idade e farei 22 em algumas semanas. Acho que se eu não gravasse as músicas dos meus 16 anos, obviamente não teria gravado agora. Nesse processo todo, eu via várias coisas de show, de galera independente que eu achava foda e que não rolava para eles. Acho que o primeiro disco vai ser sempre o primeiro, nos 20 ou 30 vamos nos arrepender de coisas. Hoje em dia ouço e falo: ‘louca, maluca…’ Mas eu acho que tive muita sorte de ter pessoas que falaram ‘vamos gravar’, como o Marcelo Callado. Muitas pessoas me apoiaram e quiserem fazer acontecer comigo. Fui construindo meu público muito no show a show. Meu primeiro show em São Paulo tinham duas, três pessoas. Sinto que hoje em dia tenho um público médio, de casa de show e que no Rio não tem muito…é muito no boca a boca meu trabalho.
O público é muito apaixonado…
Sim, é um público que gosta mesmo. Mas é isso, eu nunca forcei a barra com divulgação, acho que até menos um pouco do que deveria. Também quando comecei, não era muito claro o que eu queria. ‘Quero ser doutora’, ‘quero ser compositora’, sei lá. Comecei fazendo, as pessoas foram gostando e eu fui indo. Chegou um momento que começou a ficar inviável de grana, de fazer na raça. Eu estava gastando dinheiro e precisando de dinheiro, até que teve uma virada de chave que foi: ‘é isso que eu quero fazer? Tenho que decidir’. E aí concluí que sim, é isso que eu quero fazer, sou muito feliz fazendo isso, me emociona, então vamos lá. Foi o momento de eu levar a sério, pensar mais, principalmente no Rio de Janeiro, que não dá para fazer sempre, porque não é um público que sustenta por ser uma cidade propositalmente mal planejada de transporte público, de massa, mais que outras cidades. E aí o LECH é esse amadurecimento de saber o que eu quero em alguns campos. Já estou pensando numa lógica de produção diferente daqui para frente.
Apesar dessa virada de chave, o humor sempre foi uma constante no seu trabalho. Como você usa isso? Você é assim, é ferramenta?
Uso muito porque eu sou assim, eu não fico escrevendo piada, sabe? Na verdade, não graça nas coisas (do trabalho). Acho que as pessoas acham graça porque tem uma militância poética, da poesia como tangente menos prosaica, menos careta, de um pouquinho mais surreal em alguns sentidos. Acho que acham engraçado um pouco isso. Eu dou uma misturada nos sentidos, mas não acho graça. Me perguntam: ‘você tenta fazer música louca?’ Cara, eu me coço muito (risos) para tentar fazer uma paradinha mais careta, tipo ficar só num acorde maior. Hoje em dia é um exercício para mim até pegar um acorde que não tem muito acidente e fazer um exercício em cima dele. Tudo é muito natural, não penso em avacalhar tudo. Acho que foi do ano que eu nasci, 1997….pós-grunge, pós-Kurt Cobain….

Agora que você desmembrou esse raciocínio, penso que o LECH é muito um disco de canções. Como vê isso?
Acho que a canção está como estrutura. É isso, acho que as pessoas ficam meio chocadas e pensam: ‘em um ano você amadureceu isso…’, sendo que tem canções, tipo ‘Devia ter ficado menos‘, que era uma que eu poderia ter botado no Mormaço queima, ‘Se no cinema’, ‘Saudade’…, que vieram do processo anterior. Ali eu tive uma maturidade pra pensar que essas canções não cabiam naquela proposta de disco (do Mormaço)…o Mormaço é mais rebelde na própria proposta. Se a gente quisesse, teria feito algo mais rebelde. Foi uma escolha política, em algum lugar, de gravá-lo separado. Talvez hoje eu me arrependa e queira gravá-lo com todo mundo junto para sentir as canções como canções. Eu acho que, de fato, o LECH é um disco sobre canção, gravamos a base ao vivo, ele tinha uma onda que eu queria de anos 50….e aí tem uma coisa do som de bateria que eu queria de uma sala sem closes, uma escolha meio doida. Inclusive, foi esse som de bateria que me moveu a pensar que queria o disco assim. Fizemos a partir disso, desse som de sala grande. E fomos fazendo…
Como foi formar a banda para esse disco? O Callado, por exemplo, já estava com você?
O Callado estava comigo desde o Mormaço, mas nos shows o Guilherme Lírio tocava bateria, uma bateria super louca de não-baterista (risos). Aí a gente fez shows como trio e depois como quarteto, com o Antonio (Neves) fazendo o trombone. ProLECH eu sabia o que queria e era outra proposta, tinha que ser um baterista mesmo. Seria o Antonio, mas ele está chefiando o naipe de metais e tem que ficar ali. Aí pensei: ‘quem é louquíssimo e ao mesmo tempo careta também? Marcelo Callado’ (risos).
Como você vê a cena carioca? Frequenta, vai a shows que gosta?
Eu super vou a shows que gosto, já fui mais, mas é porque trabalho muito tempo com som e acho que fica um pouco mais cansada de ouvir. Mas eu acho uma puta cena e fico incomodada que a gente como carioca tenha poucas ideias de expansão. Tem uma puta cena de todos os gêneros possíveis e acho que às vezes a gente fica um pouco acomodado e aí não temos muita visibilidade em festivais do Brasil. Por outro lado, eu com 18 anos cheguei com um pouco mais de sede e acho que isso movimenta. E isso é importante também, porque admiro muita gente. Gosto da cena mais underground à cena mais nova MPB. Mas sinto isso, que como cena a gente deva chegar mais com o pé na porta, ter um pouco mais de ambição.
Recomende um disco ou discos que você esteja ouvindo atualmente?
Ah, estou ouvindo muito o Mama’s Gun, da Erykah Badu, que é dos anos 2000 e estou ouvindo muito o Frank (2003), da Amy Winehouse. São discos que estou pensando mais na minha próxima produção, que estou dissecando a produção.
Tem outras influências no seu som, como Mac De Marco, Jorge Ben…o próprio grunge…
Total, sinto que ouvi grunge pouco. Quando comecei a tocar e pra mim foi: “me amarro nessa energia aqui”.
Lembrei de um stories teu, tocando piano e você falando que essa seria a cara do terceiro disco. É isso?
Eu tenho feito muitas coisas com metais (cantarola uma melodia) e feito coisas no piano. Acho que tem uma onda meio de rhodes, uma guitarra aqui e ali, tô fazendo uma primeira peçinha de piano…então acho que é isso (risos).